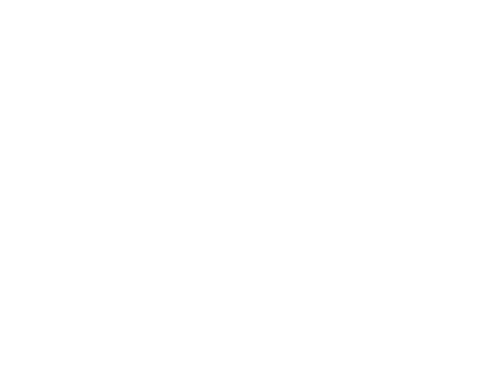UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA
LÉXICO DO SERINGUEIRO ACREANO: FORMAÇÃO DE VERBOS, SUBSTANTIVOS, ADJETIVOS E ADVÉRBIOS EM -MENTE
por
CEILDES DA SILVA PEREIRA
MARIA ZELI ARAÚJO CALIXTO
ROSENILDA EVANGELISTA PACÍFICO
Trabalho monográfico apresentado à Coordenação de Pós-Graduação em Língua Portuguesa, para obtenção do título de Especialista em Língua Portuguesa.
Banca Examinadora
------------------------------------------------------------
Professora Doutora Luísa Galvão Lessa
---------------------------------------------------------------
Professora Doutora Lindinalva Messias Chaves
----------------------------------------------------------------
Professor Doutor Avaro Sobralino
Orientador: Prof. Dr. José Pereira da Silva (UERJ)
· A Deus, mestre dos mestres.
· Ao Prof. Dr. José Pereira da Silva, pela orientação segura e precisa.
· Aos professores, pelos ensinamentos recebidos.
· À Universidade Federal do Acre, pela oportunidade da Pós-Graduação em Língua Portuguesa.
· Aos colegas de turma, pelo convívio harmônico.
· Aos colegas bolsistas do Centro de Estudos Dialectológicos do Acre – CEDAC, por nos ter cedido seus trabalhos.
São muitos os responsáveis por nossa vitória, mas os que estão por trás dela nem sempre recebem o mérito justo. Sabemos de sua importância e dedicamos, a vocês, este momento.
Por vocês, o nosso carinho, em forma de agradecimento.
Entre palavras e combinações de palavras circulamos, vivemos, morremos e palavras somos...
SUMÁRIO
1.INTRODUÇÃO
2. OBJETIVOS
2.1. Geral
2.2. Específicos
3. JUSTIFICATIVA
4. METODOLOGIA
5. DESENVOLVIMENTO
6. CONCLUSÃO
6.1. Gráficos
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
8. ANEXO
Visando aprofundar o estudo dos processos formadores de palavras no português, propomo-nos reunir um inventário de expressões e formas lexicais da linguagem acreana, mais especificamente da linguagem do seringueiro dessa região, a qual é reconhecidamente própria e peculiar.
Para tanto, utilizou-se o corpus do Centro de Estudo Dialectológicos do Acre - CEDAC, cedido gentilmente, por sua coordenadora, Profa. Dra. Luísa Galvão Lessa.
O Centro de Estudos Dialectológicos do Acre – CEDAC se constitui numa sólida linha de pesquisa do Departamento de Letras da Universidade Federal do Acre, cujo objetivo primordial é a constituição de um banco de dados sobre a oralidade regional. É um projeto de longa vida na UFAC, que abriga outros projetos, como o do Atlas Etnolingüístico do Acre – ALAC, este último voltado para a descrição da linguagem regional em cinco atividades econômicas: látex, madeira, pesca, agricultura, pecuária.
A descrição lexical é uma proposta do Atlas Etnolingüístico do Acre, para a elaboração de glossários e cartas léxicas sobre a unidade e a diversidade lingüística do Estado do Acre.
É um banco de dados com aproximadamente 1.200 horas de gravação, com textos transcritos, digitados e informatizados. Há para considerar, ainda, a pluralidade dos trabalhos dos bolsistas de Iniciação Científica e de Aperfeiçoamento, trazendo listas de palavras sobre temas diversos, recobrindo, normalmente, campos semânticos diversos da linguagem. Esse acervo tão fértil foi significativo para a feitura desta monografia, considerando que foi dele que se retiraram as palavras para o estudo do processo de formação.
E, desse modo, cotejando os inventários elaborados pelos pesquisadores do Projeto do Atlas Etnolingüístico, observou-se a linguagem de informantes de diferentes lugares, de faixa etária e de sexo. Assim, apresenta-se, aqui, um breve panorama da linguagem seringalista, descrevendo seu falar para mostrar a feição da língua portuguesa no Estado do Acre e como se dá a formação das palavras, demonstrando que o homem segue uma gramática internalizada para expressar, em harmonia com o meio, as necessidades do ler e dor dizer do mundo que o circunda.
Para a realização dessa análise, utilizou-se o ponto de vista sincrônico segundo o qual “toda conclusão concernente à história da língua deve pressupor uma análise dos dados sincrônicos, não como fenômenos isolados” (Freitas, 2000), visto que, para se observar a formação original dos vocábulos, na perspectiva diacrônica, necessita-se de um acervo lingüístico acumulado durante a história, o que dificultaria nosso trabalho.
Acredita-se que o estudo sincrônico é propício a este tipo de trabalho e atende adequadamente ao objetivo deste estudo.
2. OBJETIVOS:
2.1 Geral:
- Proceder a um estudo sobre os processos formadores de palavras no universo lingüístico do seringueiro acreano.
2.2. Específicos:
- Analisar os processos formadores de verbos, substantivos, adjetivos e advérbios em –mente, nos vales do Acre, Juruá e Purus;
-Registrar os dados coletados em forma de glossário;
- Fazer a comparação dos dados analisados e representá-los graficamente;
- Contribuir com os estudos morfológicos do português.
Para a realização desta pesquisa, adotou-se o método do Centro de Estudos Dialectológicos do Acre – CEDAC, que segue os critérios da Dialectologia Social, Geografia Lingüística, Semântica, Lexicologia e Lexicografia.
O corpus utilizado neste estudo foi totalmente cedido pelo CEDAC – que pesquisa amplamente e coleta os dados a partir de minucioso critério de seleção (Prescritos pela Geografia Lingüística). Os informantes são divididos por faixa etária e sexo.
O Projeto CEDAC conta com nove zonas de pesquisa e 18 pontos de inquérito, distribuídos em três áreas: Vale do Acre, Vale do Juruá e Vale do Purus. Cada vale possui três zonas de pesquisa e dois pontos de inquéritos. A coleta do corpus é feita por meio de entrevistas que são gravadas, transcritas e, após o levantamento dos verbetes, dispostas em forma de glossário.
Em visita ao CEDAC, fez-se a solicitação dos cadernos, gentilmente cedidos pelos bolsistas, selecionaram-se os verbetes (dispostos em glossários), e se procedeu o levantamento do acervo lingüístico do seringueiro acreano dos vales do Acre, Juruá e Purus.
Analisaram-se doze inquéritos de diferentes faixas etárias e de ambos sexos e verificaram-se os processos de formação vocabular a partir dos ensinamentos de Bechara (2000); Freitas (1997); Cunha (1985); Coutinho (1976); Kehdi (1992 e 1990); Said Ali (1966); Monteiro (1991); Câmara Jr. (2000) e de outros que constam de nossas referências bibliográficas.
Após a análise de todos os casos de formação de palavras na linguagem seringalista, fez-se o glossário e a representação gráfica de todas as ocorrências de verbos, substantivos, adjetivos e advérbios em -mente.
O estudo dos processos formadores de vocábulos em português é um estudo que merece atenção especial por parte dos estudiosos da língua portuguesa.
O homem é o agente transformador da língua e do meio social em que vive, para tanto utiliza fatos lingüísticos para representar seu universo extralingüístico, pois é
por meio da língua que ele expressa suas idéias, as de sua geração, da comunidade a que pertence e as idéias de seu tempo. A todo instante, utiliza-a de acordo com a tradição que lhe foi transmitida, e contribui para sua renovação e constante transformação. Cada falante é, a um tempo, usuário e agente modificador de sua língua, nela imprimindo marcas geradas pelas novas situações com que se depara. (Brandão, 1991).
Nesse sentido, podemos afirmar que, na língua, se projeta a cultura de um povo.
Para Mattoso Câmara Jr. (1969:22), “a língua é uma parte da cultura, mas uma parte que se destaca do todo e com ele se conjuga dicotomicamente [...] é o resultado dessa cultura, ou, em súmula é o meio para ela operar, é a condição para ela subsistir.”
Por ser dinâmica, a língua possui um número ilimitado de palavras, que tende a crescer no decorrer do tempo. A esta possibilidade de criação denomina-se sistema aberto (MACAMBIRA, 1999:22), o qual possibilita que novas palavras, a saber: verbos, substantivos, adjetivos e advérbios nominais se incorporem ao léxico.
Para atender as necessidades culturais e de comunicação, a criação de novas palavras se faz na língua por diversos caminhos (afixos, composição, analogias, neologismos etc.) como meio de revitalizar o acervo lingüístico, como afiança Bechara (2000:351).
Novas palavras são introduzidas regularmente no léxico do seringueiro acreano. O processo de formação de tais palavras se dá (curiosamente) de forma sistemática, obedecendo aos processos gerais de formação de vocábulos em português. A esse respeito, já disse certa vez Chomsky que todo indivíduo traz em si uma gramática internalizada.
Faz-se necessária, portanto, uma pesquisa e uma análise do surgimento dessas novas palavras para que se tenha um registro catalogado dessas aparições.
Esperamos que “Léxico do Seringueiro Acreano: formação de verbos, substantivos , adjetivos e advérbios em –mente” possa ser útil aos estudiosos de nosso idioma e que os colegas apresentem sugestões para o aprimoramento deste trabalho e incentivo à pesquisa dos estudos de morfologia.
Em todas as línguas, há sempre uma forma peculiar de enriquecer e ampliar o léxico. As palavras novas penetram na língua por diversos motivos e por vários processos, como a derivação e a composição. Bechara (2000:370) diz que além dos processos típicos de formação de palavras (derivação e composição), possui o português mais os seguintes: formação regressiva, abreviação, reduplicação, conversão e combinação.
Tomando como objeto de investigação o estudo da formação de palavras em português: verbos, substantivos, adjetivos e advérbios em –mente, no âmbito lingüístico do seringueiro acreano, seguiram-se, aqui, os pressupostos teóricos amplamente difundidos nos estudos da estrutura e morfologia da língua portuguesa, por vários autores que são dignos de todo nosso respeito e apreciação.
Esta pesquisa enfoca os processos formadores de palavras na linguagem seringueira, levando em consideração os ensinamentos de Câmara Jr. (1996:2001); Freitas (1997); Coutinho (1976); Cunha (1985); Kehdi (1992); Ali (1966); Monteiro (1991) e Bechara (2000).
É conceito assente entre os estudiosos do português que o vocabulário de que se compõe um idioma se distribui em duas partes: o sistema aberto e o sistema fechado; chama-se aberto porque o número de palavras é ilimitado e pode ser alterado com o tempo. Pertencem ao sistema aberto: os verbos, substantivos, adjetivos e os advérbios terminados com o sufixo –mente. Bechara (2000:351), chama de neologismos a renovação do léxico.
Denomina-se sistema fechado o número de palavras que não tende a crescer. Pertencem a esse sistema: o artigo, o numeral, o pronome, o advérbio pronominal, a preposição, a conjunção e a interjeição.
O sistema aberto corresponde ao que Vandryes (82) consagrou com o nome de semantema, e que outros, como Boris (apud Carreter), Cantinet e Martinet preferem chamar de lexema, forma lingüística de sentido lexical (cf. MACAMBIRA, 1999:22).
Entende-se, pois, o universo lingüístico como sendo um estar no mundo com os outros, não como indivíduo particular, mas como parte do todo social, de uma comunidade.
Todavia, antes de se tomar qualquer posição sobre os fatos lingüísticos propostos aqui, é necessário levar-se em consideração alguns critérios básicos que um pesquisador ou estudioso da língua deve ter em mente:
Freitas (1997:10) diz:
Para qualquer tomada de posição sobre os fatos lingüísticos, é hoje imprescindível que o estudioso ou o pesquisador adote um critério de trabalho, baseie-se num ponto de vista lingüístico e procure conceituar, com precisão, os termos em estudo.
Veja-se o que escreve Valter Kehdi (1992:01):
Considerando-se que a língua é o resultado de evoluções ocorridas ao longo dos séculos, podemos enfoca-la de dois pontos de vista diferentes: ou fixamo –nos no estado atual, com preocupações marcadamente descritivas (enfoque sincrônico),ou procuramos compreender-lhe o processo evolutivo, acompanhando-a desde as mais antigas fases até hoje (...) Não julguemos, todavia, que a utilização de uma ou de outra postura seja uma mera questão de escolha; sincronia e diacronia podem contrapor-se quanto a métodos e resultados.
Torna-se, portanto, indispensável ao pesquisador adotar um método de trabalho: ou usa um critério sincrônico ou usa um critério diacrônico. Faz-se necessária, sob este critério, uma tomada de posição quanto a sincronia ou quanto a diacronia, bem como a definição de alguns termos em apreço.
Tome-se como ponto de partida o que nos diz José Lemos Monteiro (1986:29) sobre sincronia e diacronia:
A língua existe em função da cultura do povo que dela se serve. As transformações culturais acarretam necessariamente alterações lingüísticas, muitas vezes não percebidas pelos falantes no momento em que ocorrem (...) Quando se estuda a língua com essa preocupação de levar em conta os aspectos evolutivos, desde as suas origens até as mudanças mais recentes, tem-se a perspectiva diacrônica. Ao contrário, se se escolhe para descrição e análise apenas um determinado momento de sua evolução, abstraindo-se todas as conjecturas históricas, adota-se a perspectiva sincrônica..
Segundo Saussure (1970:102), todas as partes do sistema lingüístico devem ser consideradas em sua solidariedade sincrônica.
Mattoso Câmara Jr. (1970:4), confirmando o que diz Saussure, mostra-nos um exemplo elucidativo, o do verbo comer. Buscando-se a etimologia da palavra, tem-se conclusão errônea ao se declarar que o vocábulo é desprovido de radical, visto que, de fato, diacronicamente, /com/ é prefixo e deriva do verbo latino comedere = com + ed + e + re, cuja raiz ed desapareceu completamente quando da passagem para o português. Por esta razão, hoje, a raiz de comer é o que anteriormente foi prefixo. Deste mesmo exemplo falou o Professor Valter Kehdi (1992:08).
Portanto, “os fatos gramaticais devem ser descritos de acordo com a função dos elementos que compõem a estrutura num determinado estado de língua.” (FREITAS, 1997:09)
Sob esse critério, o que se fará é um estudo sincrônico dos processos formadores de palavras no léxico do seringueiro acreano.
Ainda se faz necessário definir alguns termos dos quais se fará constante menção. Comecemos, pois, pelos conceitos de palavra e vocábulo.
Para Celso Cunha (1985:75), uma língua é constituída de um conjunto de frases. Cada uma delas possui uma face sonora, ou seja, a cadeia falada, e uma face significativa, que corresponde ao seu conteúdo. Uma frase, por sua vez, pode ser dividida em unidades menores de som e significado – as PALAVRAS – e em unidades ainda menores, que representam apenas a face significante – os fonemas.
As palavras são, pois, unidades menores que a frase e maiores que o fonema. O termo palavra, porém, é apresentado com aplicações diferentes, que devem ser distinguidas e classificadas de maneira diversa.
Bechara (2000:333), distingue palavra de vocábulo. Segundo ele, podemos ver a palavra sob três prismas diferentes: a) o seu aspecto material, fônico, como significante ou expressão; b) sua significação gramatical como uma classe de palavra que se representa sob forma de um substantivo feminino singular; c) sua significação lexical, isto é, o que significa uma palavra em relação à outra palavra.
Quando analisada como uma expressão material, a palavra pode ser classificada quanto ao seu aspecto fônico: pelo número de sílabas ou pela posição da sílaba tônica sem qualquer significado, classificada somente por suas características físicas. Nesta acepção, diz Bechara (2000: 333), que em vez de palavra, se pode usar o termo vocábulo.
A esse respeito, bem escreveu José Lemos Monteiro (1991:10):
Podemos dizer que a significação constitui um semantema e a função, um morfema (...) Com base nessa distinção, reservamos o termo palavra somente para os vocábulos que apresentam significação lexical, isto é, os que possuem semantema (...) Toda palavra é vocábulo, mas nem todo vocábulo é palavra.
Os vocábulos que não são palavras, como as conjunções, preposições, denominam-se instrumentos gramaticais. São, na terminologia de Mattoso Câmara Jr. (1970:59), formas dependentes (por não funcionarem isoladamente na frase), as palavras, por sua vez, portadoras de significado, são em geral formas livres.
Tais definições são de fundamental importância para o estudo da estrutura e formação dos vocábulos. Estes, quando palavras, apresentam em sua forma quase sempre vários constituintes.
Ligado à noção de formação de vocábulos está também o conceito de léxico que Mattoso Câmara Jr. (1996:157), define como sendo sinônimo de vocabulário, o conjunto de vocábulos de que dispõe uma língua dada. Em sentido especializado, à parte do vocabulário correspondente às palavras, ou vocábulos providos de semantema, ou vocábulo que é lexema. Neste segundo sentido, o léxico se opõe à gramática, porque é a série de semantemas da língua, vistos através da sua integração em palavras.
Cabe também, aqui, a definição de estruturalismo lingüístico, que nos leva mais uma vez a Mattoso Câmara (1996:111):
Propriedade que têm os fatos de uma língua de se concatenarem por meio de correlações e oposições, constituindo em nosso espírito uma rede de associações ou ESTRUTURA (...) Trata-se, entretanto de uma estrutura dinâmica, para servir às mais inesperadas necessidades de comunicação, e que nunca é cabal, mas sempre está em elaboração (...) O caráter dinâmico e o caráter incompleto da estrutura lingüística é que explicam não só a irregularidade e a expressão, no plano da sincronia, mas também as mudanças lingüísticas. A analogia resulta, por sua vez, do esforço para chegar à regularidade e a melhor estruturação.
A palavra é um elemento de constituição complexa, cuja análise poderá conduzir a uma base mais rigorosa para os estudos morfológicos. As palavras se decompõem e os elementos que delas se destacam devem ter um valor significativo. tais elementos são unidades mínimas, porém significativas, e recebem o nome de morfemas (KEHDI, 1992:26).
Há muitas divergências quanto o conceito de morfema. A maioria dos lingüistas, porém, acata o conceito de morfema como sendo a unidade mínima significativa da palavra. Não cabe, aqui, entrar na discussão de tais divergências, pois não é objetivo deste estudo. Considerar-se-á o que diz a maioria.
Antes de classificar os principais morfemas do português, será conceituado o radical, a partir do qual se originam novos vocábulos, como o elemento irredutível e comum às palavras de uma mesma família (KEHDI, 1992:27).
Mattoso Câmara Jr. (1996), classifica o radical em primário e secundário. Segundo ele, tem-se o radical primário quando os vocábulos são primitivos e o radical secundário quando os vocábulos são derivados.
Os principais morfemas do português: afixos: prefixos e sufixos
Designam-se afixos os morfemas que se agregam ao radical para mudar-lhe o sentido, acrescentar-lhe uma idéia secundária, mudar-lhe a classe gramatical ou formar novo vocábulo. Os afixos antepostos ao radical são chamados de prefixos e os pospostos ao radical são chamados de sufixos. Kehdi (1992:10).
A diferença entre prefixo e sufixo, contudo, não é meramente distribucional. Os prefixos, ao contrário dos sufixos, só se agregam a verbos e adjetivos, que são uma espécie de vocábulo associado ao verbo.
O acervo lexical da língua portuguesa é constituído de uma grande maioria de palavras herdadas do latim, às quais se acrescentaram palavras de outras origens, além dos vocábulos formados em nosso próprio idioma.
Basicamente, distinguem-se dois processos de formação lexical: a derivação e a composição.
Quando um vocábulo é formado de um só radical, a que se anexam afixos (prefixos e sufixos), tem-se a derivação. A composição ocorre quando dois ou mais radicais se combinam.
Said Ali (1966:17) pontifica:
Derivação é o processo pelo qual de umas palavras se formam outras, ajuntando-lhes certos elementos formativos que alteram a acepção primitiva, ou lhe acrescenta sentido novo (...) As palavras assim formadas chamam-se DERIVADAS; aquelas de onde estas procedem chamam-se DERIVANTES ou PRIMITIVA.
Quando o elemento formativo (sufixo) se coloca depois da palavra derivante (primitiva) tem-se a derivação sufixal. Quando o elemento formativo (prefixo) se coloca antes da palavra derivante, tem-se a derivação prefixal.
Além da derivação prefixal e sufixal há, ainda, outros tipos de derivação dos quais nos falou Kehdi (1992:10), são eles: parassíntese, derivação regressiva, derivação imprópria ou conversão:
Processo não consignado pela NGB, a parassíntese, muito comum em português, consiste na adjunção simultânea de um prefixo e de um sufixo a um radical, de forma que a exclusão de um ou de outro resulta numa forma inaceitável na língua. Tomemos, como exemplo, o verbo esclarecer; não existe o adjetivo esclaro, nem o verbo clarece.
A derivação regressiva ocorre quando, a partir de um vocábulo com sufixo real ou suposto, formamos um novo vocábulo através da eliminação do referido sufixo. Contudo, o maior número de derivados regressivos é constituído de substantivos deverbais, como: paga, de pagar e luta, de lutar (Kehdi, 1992).
Um vocábulo também pode ser formado quando passa de uma classe gramatical a outra, aparentemente sem alterações formais; é o que se denomina derivação imprópria ou, mais comumente, conversão (Kehdi, 1992).
Outro processo geral de formação de vocábulos em português é a composição. Concordamos com Said Ali (1966) quando afirma que palavra composta é a combinação de dois ou mais vocábulos com a qual se designa algum conceito novo, diferenciado dos termos componentes.
Para Evanildo Bechara (2000:355) a composição consiste na criação de uma palavra nova de significado único e constante, sempre e somente por meio de dois radicais relacionados entre si.
Com base em todos esses ensinamentos far-se-á a análise dos verbetes encontrados no acervo do seringueiro das regiões acreanas.
Título
Léxico do seringueiro acreano: formação de verbos,
substantivos, adjetivos e advérbios em –mente.
Tentar-se-á, aqui, ainda que superficialmente, examinar alguns processos de formação vocabular no contexto lingüístico do seringueiro acreano. O corpus da pesquisa, como já foi dito anteriormente, pertence ao Centro de Estudos Dialectológicos do Acre e nos foi gentilmente cedido pela Professora Doutora Luísa Lessa, coordenadora do projeto.
Observou-se que o acervo lingüístico do homem das diversas regiões acreanas é formado, em sua maioria, a partir da necessidade de comunicação. Os processos formadores de tal acervo, no entanto, não são estranhos às palavras já fixadas em nosso idioma.
Vários exemplos temos de palavras formadas por derivação. A formação se dá por analogia a uma palavra primitiva, o que é bastante comum no português.
O verbo embicar é exemplo de palavra formada por um prefixo e um sufixo, que atrelados ao seu radical, completam-lhe o sentido e formam novo vocábulo:
em + bic (a) + ar
O radical -bic que originou o substantivo bica (já existente na língua portuguesa) deu origem a uma nova palavra feita por analogia a uma outra primitiva. O verbo embicar tem, aqui, sentido análogo ao da palavra que o originou.
Compare:
bica = fonte natural cuja água cai em fileira
embicar = ato ou ação fazer bica na madeira de seringa.
Outros exemplos:
encauchar = em + (prefixo) + cauch (o) + ar (sufixo) = caucho = espécie de árvore, cujo leite é usado para coalhar o látex.
empaiolar = em (prefixo) + paiol + ar (sufixo) paiol = espécie de armazém de palha.
entrepessar = em (prefixo) + trepess (a) + ar (sufixo) trepessa = espécie de escada
enrodar = em (prefixo) + rod (o) + ar (sufixo) o rodo = a volta em círculo
encoivarar = em (prefixo) + coivar (a) + ar (sufixo) encoivarar = pôr em coivara
encabilhar = em (prefixo) + cabilh (o) + ar (sufixo) encabilhar = pôr em cabilho
empicar = em (prefixo) + pique + ar (sufixo) = empicar pôr em pique = caminho
empicarar = variante de empicar
destabar = (não se sabe ao certo o significado)
destripar = des (prefixo) + trip (a) + ar (sufixo) = tirar as tripas.
Dos exemplos acima, alguns se dão por derivação prefixal e sufixal, simultaneamente, outros, por derivação parassintética ou circunfixação. Dos verbos acima somente enrodar, empicar, empicarar se dão por derivação prefixal e sufixal, os demais, encaixam-se no processo de parassíntese.
Bechara (2000:342) diz que o conceito de parassíntese ou circunfixação não é de todo assente entre os estudiosos e está ligado à noção dos constituintes imediatos. Para uns, basta a presença de prefixo e sufixo ligados ao radical para se caracterizar a ocorrência de parassíntese; maneira de ver que Bechara, Valter Kehdi e outros rejeitam com toda razão, por não se levar em conta a noção dos constituintes imediatos. A parassíntese consiste na entrada simultânea de um prefixo e um sufixo no radical, de tal forma que não existirá na língua a forma ou só com o sufixo ou só com o prefixo, classificação já citada na obra de E. Nida, Morphology. É o caso dos verbos encauchar, empaiolar, entrepessar, encoivarar, destripar, destabar, cujos radicais foram acrescidos de prefixos e sufixos simultâneios.
des (prefixo) + trip (a) + ar (sufixo)
des (prefixo) + coiva (a) + ar (sufixo)
As formações parassintéticas são, para alguns, exemplos de circunfixação, termo muito discutido entre autores mais recentes. José Lemos Monteiro, em seu artigo intitulado: “Quem disse que não há infixos no português?” conceitua o circunfixo como sendo um afixo que se aplica a uma base (radical) no início e no fim, caracterizando-se como um afixo descontínuo. A exemplo, temos os casos acima citados.
Alguns adjetivos sofreram o mesmo processo de formação:
embalseirado = em + balcei (o) + ado (entre balseiros)
escangotado = es + cangot (e) + ado (derivado de cangote)
Outro caso interessante é o do verbo desembutir que se originou de um outro verbo já conhecido dos seringueiros o verbo embutir, cuja origem não é bem conhecida. Desembutir se constitui um caso de derivação prefixal, pois a ele se acrescentou um prefixo.
Confira:
embutir = ato ou ação de introduzir a tigela na árvore de seringa
desembutir = des + embutir = ato ou ação de retirar a tigela da árvore de seringa
Caso semelhante temos em desassombrado (adjetivo), trepessa e minusina (substantivos). Observe:
desassombrado = des + assombrado (sem assombro)
minusina = mini + usina (usina pequena), onde houve a síncope do i. Para Celso Cunha, mini é um pseudoprefixo.
No caso dos substantivos ocorre com muita freqüência a formação por meios de sufixo. É o caso dos substantivos beberagem, escorrência, puxado, embutidor, meeiro, arriação, arreata, palheta, oitão, travessa, varação, cavador, seboseira, mateiro, cumeeira, palavras, estas, formadas também por analogia a verbos já existentes.
Observe:
arriação = arri (ar) + ação
beberagem = bebe + agem (cozimento à base de ervas medicinais)
cumeeira = cume + eira (diz-se do ponto mais alto da casa, observe-se que houve uma alusão a cume)
escorrência = escorr (er) + ência (substantivo para designar abundância)
meeiro = mei (o) + eiro (diz-se do trabalhador que trabalha meio a meio com o patrão)
seboseira = sebos (o) + eira = (imundície)
trepessa = trep (ar) + essa = (pequena escada)
Casos de palavras como apartação se inserem naqueles considerado como de derivação por circunfixação, já citados a cima.
a + part (e) + ação (divisão de cômodos)
Palavras como capemba, oito, furdunço, bucho e colha são formadas em sua maioria por analogia a outra já existente. Geralmente, o seringueiro parte do conhecido para, assim, denominar o desconhecido.
A analogia é, no dizer de Coutinho (1976), resultante da influência de um vocábulo sobre o outro, determinando igualdade ou aproximação. Afirma Bréal que ela encontra a sua razão de ser no próprio instinto imitativo do homem. A analogia não é uma causa, mas um simples meio. As línguas recorrem à analogia por vários motivos. Entre eles, para obter mais clareza ou para pôr em destaque uma oposição ou semelhança (COUTINHO, 1976).
É o caso das palavras capemba, oito, bucho. De muitas dessas palavras não se sabe a origem e o radical. Algumas são neologismos que tomaram novo significado:
oito = diz-se da estrada que dá uma volta em forma de oito.
Algumas palavras podem se inserir na categoria dos neologismos que, segundo Coutinho (1976), são novas acepções dadas a palavras antigas. É provável que tais substantivos sejam neologismos, já que, para o seringueiro, essas palavras ganharam novo sentido. Sofreram alteração semântica:
aceiro = final da extensão de terra, da colocação, campo. Lugar onde se faz a queimada.
bóia = comida
bucho = resto; miolo da madeira
pauta = pacto
pilha = amontoado; balseiro
susto = doença
tomar = misturar-se
torar = cortar caminho
Capemba, aviar e tomar são também substantivos primitivos que sofreram alteração semântica.
Podem ser também considerados neologismos que se incorporaram à língua:
capemba = nome dado ao corisco de castanha partido ou a certos ocos que se formam no tronco de certas árvores.
tomar = ato ou ação em que a chuva se mistura com o leite, ao jorrar sobre as tigelas embutidas na seringueira.
Palavras como fecho, colha, desobriga são classificadas como regressivos deverbais que consistem na dedução de uma forma primitiva com base numa outra que se julga derivada.
Nem sempre é fácil saber se é o substantivo que provém do verbo ou se é o verbo que se deriva do substantivo. Segundo Kehdi (1992:22), a derivação regressiva ocorre quando, a partir de um vocábulo real ou suposto é formado um novo através da eliminação do referido sufixo.
De todos esses procedimentos de revitalização do léxico, merecem atenção especial a derivação (ora estudada) e a lexia complexa, tendo em vista a regularidade e sistematização com que operam na criação de novas palavras.
As lexias complexas, (termo de Bernardo Potier), formadas de sintagmas complexos que podem ser constituídos de dois ou mais elementos, também podem ser conceitos utilizados para explicar o universo lingüístico do seringueiro acreano.
Bechara (2000:352) distingue lexia de composição. Segundo ele, por composição se entende a junção de dois elementos identificáveis pelo falante numa unidade nova de significado único e constante. Por lexia entende-se a conexão de palavras formadas por sintagmas complexos que podem ser constituídos de mais de dois elementos. Relacionamos algumas expressões lexicalizadas, cujo resultado é sempre um substantivo:
boca da estrada = início do percurso que leva às estradas de seringas.
estrada de centro = seringueiras que ficam no centro da mata.
estrada de porta = seringueira que fica perto da casa do seringueiro.
estrada de recurso = seringueira que já foi explorada, mas ainda pode ser aproveitada.
estrada de leite = seringueira que produz muito leite.
estrada bruta = seringueira que ainda não foi explorada.
vizinho de banda = o mesmo que vizinho que mora ao lado
Encontramos, ainda, algumas lexias cujos resultados são verbos. Confira:
dar o rodo = fazer o percurso das estradas em círculos.
testar o animal = ato ou ação de animar-se para o namoro.
quebrar a estrada = não concluir o corte.
cortar em bandeira = fazer o corte semelhante a uma bandeira.
fazer muagem = fazer ar de corajoso.
Kedhi (1992:30) nos diz que um vocábulo novo pode ser formado através da passagem de uma classe gramatical a outra, aparentemente sem alterações formais. É o que se denomina conversão. Como exemplo, pode-se citar a palavra marcela que passou de substantivo próprio a comum. (marcela = planta medicinal).
Formação interessante é a dos advérbios em –mente, onde se observou a inversão e a supressão de certas letras. A formação se deu a partir do verbo, do substantivo e do adjetivo acrescidos do sufixo -mente:
sodamente = só + dá + mente (dá somente)
comparamente = compara (da) + mente (comparadamente)
bocalmente = bocal + mente.
6. CONCLUSÃO
Sem dúvida alguma, o homem é um agente transformador. A língua muda, por sua vez, conforme as transformações ocorridas na vida do homem. Dessa forma são de fundamental importância os estudos realizados com esse agente, que é ao mesmo tempo, inovador e modificador de palavras.
Este trabalho nos permitiu aplicar a teoria vista no curso de Pós-Graduação de Língua Portuguesa, na disciplina Morfossintaxe da Língua Portuguesa, pelo mui digno Prof. Dr. José Pereira da Silva, à realidade do seringueiro acreano.
De acordo com o estudo feito da linguagem do seringueiro acreano, afirmamos não ser possível separar o homem do meio físico-social. Há uma estreita relação entre as palavras que ele utiliza e sua vida. As palavras utilizadas no seu dia-a-dia refletem a perspectiva de ler e sentir o mundo que o rodeia. Esse homem faz uso do conhecido para denominar o desconhecido. Como exemplos, temos: boca da estrada, quebrar a estrada, embicar, entrepessar e outros. Assim, cada palavra tem uma história, um motivo de ser que justifica seu emprego em determinado contexto, podendo variar de lugar para lugar, de faixa etária para faixa etária, do sexo masculino para o feminino e de outros fatores que possam determinar essa variação de forma e significado.
Assim, selecionando o corpus do CEDAC e desenvolvendo a análise do processo de formação vocabular, assim como a relação semântica da palavra e seus constituintes tomados isoladamente: desembutir, encabilhar, empausar, cumeeira, percebe-se a inserção de afixos formadores de palavras, e que o homem (mesmo não sendo escolarizado, não tendo noção da semântica, analogia, neologismo, afixos derivacionais e outros) se apropria inconscientemente de recursos gramaticais que lhes são inerentes e os utiliza segundo suas necessidades de interlocução e interação com o meio em que vive.
Percebe-se a partir desse estudo que no acervo lingüístico do seringueiro é mais comum a formação de substantivos, devido à necessidade que este tem de denominar as coisas que o rodeia: vento-caído, trepessa, estrada de porta etc. Os verbos também são bastante comuns e são criados para expressar as diversas ações do seringueiro: empicar, enrodar, bolar, empaiolar etc. Os casos mais raros são os dos adjetivos e advérbios em –mente, como sodamente, bocalmente e comparamente.
Quanto à composição, não considerou - se, aqui, nenhum caso, preferimos acatar o que diz Bechara (2000), que distingue composição de lexia complexa. Todos os casos mostrados neste trabalho são, então, por nós consideradas lexias complexas.
Todos esses processos formadores vocábulos, no entanto, não são estranhos aos processos de formação geral de palavras no português.
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGUIAR, Jeane Cristina Souza. O homem do Vale do Purus: hábitos, saúde e vestuário. Glossário apresentado no IX Seminário de Iniciação Científica na UFAC. Rio Branco : 2000.
–––––––––. O homem e seu universo particular: um estudo da variação, forma e freqüência de usos no Vale do Purus. Glossário apresentado no VIII Seminário de Iniciação Científica na UFAC. Rio Branco, 1999.
AGUIAR, Lucivânia Regina Martins de. A linguagem como expressão de história de vida do homem do vale do Purus: etnografia e léxico. Glossário apresentado no VIII Seminário de Iniciação Científica na UFAC. Rio Branco, 1998.
ALI, Said M. Gramática secundária da língua portuguesa. São Paulo : Melhoramentos, 1966.
ARAÚJO, Evanéia Barros de. A linguagem acreana – um estudo comparativo nas zonas de Rio Branco, Plácido de Castro e Xapuri. Glossário apresentado no IX Seminário de Iniciação Científica na UFAC. Rio Branco, 2000.
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rev. e ampl. Rio de Janeiro : Lucerna, 2000.
CÂMARA JR. Mattoso. Dicionário de lingüística e gramática. Petrópolis.: Vozes, 1996.
CÂMARA JR. J. Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. Petrópolis : Vozes, 2000.
COUTINHO, Ismael de Lima. Gramática histórica. Rio de Janeiro : Ao Livro Técnico, 1976.
CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1985.
FREITAS, Horácio Rolim de. Princípios de morfologia. Rio de Janeiro : Oficina do Autor, 1997.
GUIMARÃES JUNIOR, Isac de Souza. Processos e implementos de trabalho do seringueiro: um estudo lexical. Trabalho apresentado no IV Seminário de Iniciação Científica na UFAC. Rio Branco, 1996.
KEHDI, Valter. Morfemas do português. São Paulo : Ática, 1990.
–––––––––. Formação de palavras em português. São Paulo : Ática, 1992.
LESSA, Luísa Galvão. Projeto Centro de Estudos Dialectológicos do Acre – Comunicação apresentada no IX Congresso Internacional de Filosofia e Lingüística da América Latina: ALFAL. Campinas, 1990.
LUZ, Kellen Cristina Lopes. A linguagem como expressão de trabalho do seringueiro: etnografia e léxico. Glossário apresentado no VII Seminário de Iniciação Científica na UFAC. Rio Branco: 1998.
MACAMBIRA, José Rebouças. A estrutura morfossintática do português. São Paulo : Pioneira, 1999.
MONTEIRO, José Lemos. Morfologia portuguesa. Campinas : Pontes, 1991.
OLIVEIRA, Liny Sara Martins de. O homem – costumes e tradições. Glossário apresentado no VII Seminário de Iniciação Científica na UFAC Rio Branco, 2000.
OLIVEIRA, Sandra Sales de. A linguagem como expressão do trabalho do seringueiro do Vale do Purus: etnografia e léxico. Glossário apresentado no VII Seminário de Iniciação Científica na UFAC. Rio Branco, 1998.
SEVERO, Joaquim Antonio. Metodologia do trabalho científico. Ed. rev. e ampl. São Paulo : Cortez, 2000.
Glossário de palavras relativas ao campo semântico
o seringueiro e seu universo particular (corpus do CEDAC)
Aceiro. Sm – diz-se da terra que foi queimada.
Apartação. Sf – variação de repartição, divisão de cômodo.
Arreata. Sf – alça de estopa.
Arriação. Sf – armação que permite a junção de duas partes.
Bóia. Sf – variante de comida.
Bucho. Sm – diz-se do material encontrado no interior do caule da paxiúba, o qual é retirado pelo seringueiro na hora em que vai cortar essa madeira para a construção da casa do mesmo.
Capemba. Sf – utensílio usado para jogar o leite de seringa sobre a borracha durante a defumação.
Cavador. Sm – instrumento utilizado na defumação.
Colha. Sf – o mesmo que colheita.
Colocação. Sf – parte limitada do seringal. O mesmo é constituído de várias colocações.
Cu-de-barrão. Sm – dá-se o nome a um corte profundo na madeira.
Cumeeira. Sf – parte que dá sustentação ao telhado da casa.
Desobriga. Sf – diz-se das visitas que o padre faz no seringal.
Empaludismo. Sm – o mesmo que malária.
Estrada bruta. Sf – diz-se da estrada de seringa que ainda não foi cortada.
Estrada de centro. Sf – seringueira que fica no centro da mata.
Estrada de leite. Sf – o mesmo que estrada de seringa, seringueira que produz leite.
Estrada de porta. Sf – estrada que fica perto da casa do seringueiro.
Estrada de recurso. Sf – denominação dada às estradas de seringa que já foram cortadas, mas que ainda têm seringueiras nativas a serem exploradas.
Fecho. Sm – denominação dada ao ponto onde se unem e se fecham duas estradas.
Furdunso. Sm – grande confusão, baderna.
Manga. Sf – pequeno desvio na estrada de seringa no qual o seringueiro, após tê-lo feito, retorna ao mesmo lugar.
Marcela. Sf – planta medicinal semelhante ao boldo.
Mateiro. Sm – responsável pelo serviço da mata (homem de confiança de seringalista).
Minuzina. Sf – [de mini + usina] nome que o seringueiro utiliza para designar uma fábrica de borracha, na qual executa-se o trabalho de defumação da mesma.
Oitão. Sm – parte superior da casa do seringueiro.
Oito. Sm – pequeno desvio na estrada de seringa, cujo formato é em forma de oito.
Palheta. Sf – espécie de pá, utilizada para mexer algo.
Pauta. Sf – trato, pacto.
Pilha. Sf – cortar os pés de arroz.
Resume. Sm – variação de regime, regimento, modo de viver.
Seboseira. Sf – (seboso) imundície.
Susto. Sm – diz-se de uma doença em criança recém-nascida.
Traço. Sm – tipo de corte superficial feito na casca da seringueira.
Travessa. Sf – caminho estreito que liga uma estrada à outra.
Varação. Sf – espécie de caminho utilizado para encurtar caminho, atalho.
Vizinho de banda. Sm – diz-se do nome daquele que mora próximo à casa do seringueiro e que reparte uma banda da caça como o mesmo.
Abrir as estradas. V – iniciar o corte de seringa, devastar.
Aviar. V – ser rápido, ágil.
Bolar. V – fazer em bola, tomar a borracha em bola.
Cortar em bandeira. V – fazer o corte na seringa semelhante a uma bandeira.
Dar o rodo. V – dar a volta.
Desbatar. V – diz-se da ação praticada pelo seringueiro de tirar o tabaco de sua planta.
Desembotir. V – ato ou ação de retirar a tigela da árvore de seringa.
Destripar. V – tirar as tripas.
Embicar. V – ato ou ação de fazer bica na seringueira.
Embocar. V – variante de emborcar.
Embutir. V – ato ou ação de introduzir a tigela na madeira.
Empaiolar. V – pôr no paiol.
Empausar. V – ato ou ação de rodear as seringueiras com paus.
Encabilhar. V – pôr em cabilho.
Encauchar. V – cobrir com caucho (espécie de leite).
Encoivarar. V – pôr em coivara.
Enrodar. V – fazer a volta nas estradas de seringa.
Entrepessar. V – ato ou ação de colocar a trepessa (pequena escada).
Fazer muage. V – fazer ar de corajoso, decidido.
Impicarar. V – ato ou ação de derrubar as árvores para abrir a estrada.
Picar. V – ação de colocar em pico.
Quebrar a estrada. V – interromper o corte de seringa.
Testar o animal. V - ação de animar-se para o namoro.
Tomar o leite. V – derramar, estragar o leite.
Tomar. V – levar, ser tomado pela chuva.
Topar. V – deparar-se com; encontrar-se com alguém.
Torar. V – cortar caminho, fazer atalho.
Desassombrado. Adj – sem assombro.
Embalseirado. Adj – entre balseiros.
Escangotado. Adj – desfalecido.
Meeiro. Adj – que se pode partir em dois quinhões iguais.
Ronxeado. Adj – diz-se de como o seringueiro fica após levar uma pisa do Caboclinho da Mata.
Bocalmente. Adv – oralmente.
Comparamente. Adv – relativo à comparação.
Sodamente. Adv – dá somente.
|
CLASSES DE PALAVRAS |
Nº DE OCORRÊNCIAS |
SUBSTANTIVOS |
38 |
|
VERBOS |
27 |
|
ADJETIVOS |
06 |
|
ADVÉRBIOS |
03 |
|
TOTAL |
74 |

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA ANÁLISE DOS DADOS
|
PALAVRAS |
Nº DE OCORRÊNCIAS |
|
DERIVAÇÃO |
34 |
|
LEXIA COMPLEXA |
11 |
|
PALAVRAS PRIMITIVAS |
17 |
|
TOTAL |
62 |

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA ANÁLISE DOS DADOS
|
TIPO DE DERIVAÇÃO |
Nº DE OCORRÊNCIAS |
|
PREFIXAL |
05 |
|
SUFIXAL |
15 |
|
CIRCUNFIXAL |
14 |
|
TOTAL |
34 |